
Parte III: Obtenção de extractos enzimáticos e sua conservação
Primeira: material foliar como base da análise.
Vantagens: disponível durante todo o ano, acesso relativamente fácil (excepto em alguns sobreiros adultos com fuste mais elevado!), organismos contaminantes sem relevância.
A alternativa, em plantas jovens, seriam as raízes, menos fáceis de aceder sem perturbar as plantas, e pelo menos teoricamente passíveis de albergar fungos ectomicorrízicos.
Desvantagens: presença de compostos inibidores de actividades enzimáticas.
Este aspecto ocupou uma parte substancial do trabalho, mas ao ser ultrapassado permitiu evidenciar todas as vantagens referidas, especialmente importantes para amostragens na ordem dos milhares.
A possibilidade de utilizar as sementes colhidas das árvores foi explorada na frutificação de 2000. Constatou-se ser possível obter a mesma quantidade (400 mg) de material da extremidade dos cotilédones (distal ao estigma) para produzir extractos, sem prejuízo da capacidade germinativa das sementes (até estimulando o processo de germinação).
Segunda: adaptação dos dois passos de processamento de cada amostra, a extracção de enzimas e a separação electroforética, para análises em larga escala. A experimentação com estes dois passos justificava-se pela necessidade de processar muitas amostras, resultante da possível raridade de ocorrência de híbridos espontâneos, e da expectativa de alelos infrequentes que pudessem dificultar o estabelecimento de critérios fiáveis de discriminação. Adicionalmente, foi necessária para satisfazer o objectivo de assegurar que todas as actividades enzimáticas discriminantes fossem reveladas, conjuntamente à resolução de dificuldades inicialmente encontradas [Branco, 2000], especialmente no passo de extracção.
Resultou assim num protocolo original que permitiu levar a cabo as análises pretendidas em suficiente profundidade (cf. parte B, e Apêndice III-A1).
Terceira: conservação das actividades enzimáticas a –20 ºC. A relativa morosidade do processo de extracção de enzimas justificava a preferência por conservar as actividades enzimáticas para possibilitar, dentro de um período de algumas semanas, a análise em diferentes sistemas electroforéticos e eventuais repetições para confirmar observações. A temperatura de –20 ºC foi considerada preferível aos –80 ºC porque permitia manter as amostras sempre em estado líquido (com a ajuda dos anticongelantes glicerol ou glicol de etileno), deste modo reduzindo o impacto de sucessivas utilizações.
As opções acima descritas justificam-se principalmente pela estratégia que à partida se estabeleceu, no projecto PAMAF 8153, de adequar a metodologia a futuros rastreios em larga escala, para a detecção de híbridos em materiais de propagação.
A literatura de análise isoenzimática em Quercus spp., e nomeadamente em sobreiro, evidencia tendências diferentes das do presente trabalho. Em primeiro lugar, e à excepção dos trabalhos do grupo da Universidade de Montpellier orientado pela Profª Lumaret, e seus associados [Yacine e Lumaret 1989, Ellena-Rossellò et al. 1992, 1996, 1997, Michaud et al. 1995, Toumi & Lumaret 1998, Lumaret et al. 2005], o material de trabalho raramente consiste de folhas, optando os autores por trabalhar com gemas foliares ou raízes [Von Wühlisch & Muhs 1995, Jimenez et al., 1999] ou com pólen [Nóbrega 1997]. Dado que a estratégia de amostragem assentava na análise de plantas criadas em viveiro, que não têm floração, e por causa das complicações potenciais com a presença de fungos ectomicorrízicos nas árvores adultas, apenas seria aplicável usar gemas ou folhas no presente trabalho. Por seu lado as gemas constituíam à partida apenas uma solução de recurso, pois para obter material suficiente é necessário acumular várias por indivíduo, o que no caso das plantas criadas em viveiro poderia ser destrutivo.
No caso das folhas tentou-se aplicar o único protocolo detalhado publicado pelo grupo de
Montpellier [Yacine & Lumaret 1989], que após um passo de maceração num almofariz com areia, à
temperatura ambiente, prossegue pela dissolução em tampão Tris contendo 2-mercaptoetanol e
polivinilpolipirrolidona, e conservação a –80 ºC. No entanto, e por motivos que não foi possível
determinar, este protocolo nunca deu resultados neste trabalho, o que levou a optar pela via de
investigação de um protocolo original referida acima
![]() . Só já depois de ter sido completado o trabalho
laboratorial houve finalmente acesso ao protocolo usado com carvalhos americanos [Mitton et
al. 1977, Sork et al. 1993b].
. Só já depois de ter sido completado o trabalho
laboratorial houve finalmente acesso ao protocolo usado com carvalhos americanos [Mitton et
al. 1977, Sork et al. 1993b].
1) Composição do meio de extracção
L-histidina e ácido N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfónico (ACES), a 25 mM cada.
A escolha deste sistema levou em conta a eficiência de tamponização, pela combinação de valores adequados de pKa (6,0 e 6,9 respectivamente) e de tendências opostas do equilíbrio ácido-base no intervalo entre esses valores (+1 e –1 respectivamente [Skopes 1987]). Foi assim possível utilizar concentrações relativamente baixas das duas substâncias e ao mesmo tempo garantir um valor de pH final próximo de 6,5 (a solução tinha um pH final entre 6,5 e 6,7, e após a obtenção do extracto permanecia entre os 6,0 e 6,5). Estes valores de pH são conforme o sugerido por Loomis & Bataille [1966], no sentido de controlar-se a ionização dos taninos sem afastar muito do pH citoplásmico: os taninos ionizam-se à medida que o pH sobe a partir do valor 3, e uma vez ionizados (o que se reconhece facilmente pela sua intensa cor castanha tom de café) estabelecem ligações covalentes com uma grande variedade de grupos funcionais nas estruturas proteicas, inactivando os enzimas [Loomis & Bataille 1966, Loomis 1974].
Adsorventes de substâncias inactivadoras
Polivinilpirrolidona solúvel (PVP40) a 12,5% (w/v) e albumina de soro de bovino (BSA, fracção V) a 0,2% (w/v).
A polivinilpirrolidona é o adsorvente de taninos mais utilizado [Anderson 1968, Loomis 1974, Kelley & Adams 1977, Mitton et al. 1979, Theimer 1983, Kephart 1990, Bult & Kiang 1993, Nóbrega 1997], se bem que a concentrações geralmente da ordem dos 4–5%. Trata-se de um polímero formado por ligações covalentes muito semelhantes à ligação peptídica, assim funcionando em solução como um “tampão” para os taninos, que na forma não-ionizada formam ligações por ponte de hidrogénio com as ligações peptídicas das proteínas, o que nem sempre se traduz em inactivação dos enzimas mas acarreta a sua quase completa precipitação [Loomis & Bataille 1966], incompatível com a electroforese. Deste modo, o que conta para a efectividade da PVP40 é a quantidade presente em solução [Loomis & Bataille 1966], necessária a impedir eficazmente a acção dos taninos presentes. Empiricamente, e em função dos melhoramentos que se conseguiam com outros componentes, adoptou-se a utilização de 1 mL de solução contendo PVP40 a 12,5% (w/v), para 400 mg de material foliar (o que se traduz em 31,25% w/w de PVP40 por peso fresco de folhas).
A BSA é indicada como adsorvente geral que pode complementar a PVP40, pois forma complexos com grande variedade de potenciais inibidores de enzimas (iões metálicos, lípidos, taninos simples que não se ligam à PVP40, etc. [Loomis 1974, Theimer 1983, Skopes 1987, Kephart 1990]).
Antioxidantes, permeabilizadores
Ascorbato de sódio a 250 mM e ditiotreitol (DTT) a 5 mM, e tetraacetato dissódico de etilenodiamina (EDTA) a 10 mM.
Os dois primeiros são inibidores da propagação de radicais livres (de Oxigénio e de Enxofre respectivamente) em solução, enquanto o EDTA é um quelante de catiões divalentes, também importante para a acção dos antioxidantes, e que reduz a estabilidade das membranas celulares por remoção do Magnésio, deste modo permeabilizando-as para maior eficácia de homogeneização [Penefsky & Tzagoloff 1971, Theimer 1983, Skopes 1987].
Glicol de etileno a 25% (v/v), anticongelante, e sulfóxido de metilo (DMSO) a 8% (v/v), inibidor a longo prazo da propagação de radicais livres de Oxigénio [Krungkrai et al. 1990] e um cocktail de inibidores de proteases (Apêndice III secção C2) [Ryan, & Walker-Simmons 1981, Black et al. 1989, DiStefano et al. 1997].
Outras substâncias foram experimentadas, por virem citadas frequentemente na bibliografia de extracção de enzimas (cf. “Revisão bibliográfica”, parte IV, secção C2), mas sem vantagens aparentes ou mesmo com piores resultados: como potenciais inibidores da acção dos taninos há a referir a polivinilpolipirrolidona (insolúvel), o tetraborato de sódio, o óxido de germânio e o fenoxietanol, ou ainda o metabissulfito de sódio ou de potássio; como inibidores das tirosinases (polifenoloxidases), para complemento dos inibidores da acção dos taninos, o dietilditiocarbamato de sódio, o cianeto de potássio, ou a azida de sódio; como antioxidantes, o 2-mercaptoetanol ou a glutationa; o anticongelante glicerol; como permeabilizadores de membrana, os detergentes CHAPS ou Triton X-100; como estabilizadores gerais dos enzimas, a sacarose ou o cloreto de potássio. Em praticamente todos os casos utilizaram-se as concentrações recomendadas nas referências bibliográficas.
A amostragem de cada indivíduo consistia dalgumas folhas colhidas no próprio dia, em número de 2 se fossem grandes até 6 ou 7 se fossem pequenas.
Pesagem. Tanto quanto possível evitavam-se folhas com parasitas, defeitos ou áreas necrosadas. Para cada amostra, após retirarem-se os pecíolos e limpar-se a superfície, pesavam-se cerca de 400 mg (limbos intactos sempre que possível), que eram colocados num almofariz.
Maceração. Aproximadamente 25 mL de azoto líquido eram vertidos sobre as folhas, que eram maceradas usando o pilão, primeiro com pressão vertical e depois com movimentos circulares. Depois de evaporar-se o azoto, a maceração era repetida para obter um pó tão fino quanto possível. É importante reduzir as folhas a pó (figura 3.2), principalmente no caso das azinheiras jovens, cujas folhas são muito fibrosas.
Na prática, usou-se uma colher de 50 mL para retirar de uma só vez o azoto líquido da garrafa, e distribuiam-se duas metades desse volume por dois almofarizes, apenas um contendo as folhas; para a repetição era suficiente transferir o azoto ainda existente no segundo almofariz.
Suspensão. Imediatamente após a maceração, transferia-se o pó, com a ajuda de uma espátula e um funil, para um tubo de 2 mL (Sarstedt 72689), e sobre ele pipetava-se 1 mL de meio de extracção, agitando o conteúdo de modo a assegurar que todo o pó ficava embebido pelo líquido. Nestas condições, o tubo podia esperar vários minutos no banho de gelo, nomeadamente porque o processamento de amostras era feito em séries de 6.
Homogenização. O conteúdo de cada tubo (macerado de folhas embebido em meio de extracção) era homogenizado durante 10 segundos com um homogenizador de lâminas da marca CAT (Staufen, Alemanha, modelo X120, com sonda T6), à velocidade máxima (30000 rpm) e com o tubo imerso no banho de gelo. Mais tempo implicava acumulação de calor que pode inactivar enzimas, pelo que para facilitar a homogenização não só era muito importante pulverizar as folhas completamente no passo de maceração em azoto líquido, como a utilização do homogenizador para uma pré-homogenização a velocidade reduzida, geralmente com a duração de 10 a 20 segundos (figura 3.2).
Sedimentação. Centrifugavam-se os tubos com os homogenatos durante 10 minutos a 5000 g e retiravam-se 100 µL de sobrenadante (de cor amarelo dourado a verde, segundo a proporção de cloroplastos em suspensão, figura 3.2) para um tubo de plástico de 0,5 mL (Sarstedt 72699) contendo 5 µL de um cocktail de inibidores de proteases e misturava-se bem com leve agitação do tubo, momento em que se concluía a extracção. Nestas condições, os extractos podiam esperar algumas horas em banho de gelo até serem guardados a –20 ºC.
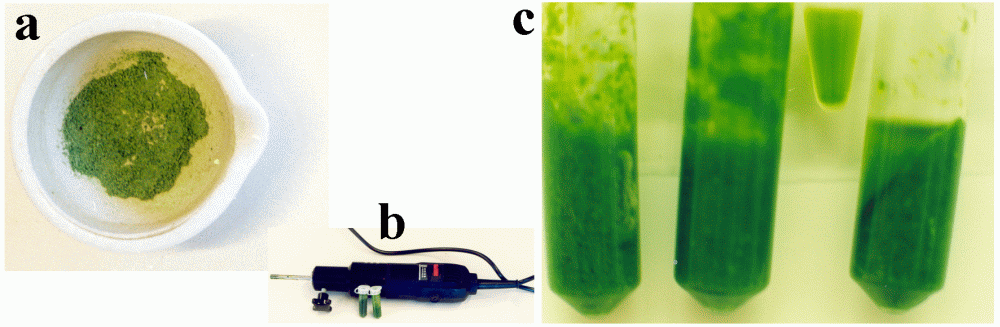 Figura 3.2 — Aspecto do material foliar à medida que era processado. a) Macerado no
interior do almofariz. b) Homogenizador e dois tubos de 2 mL contendo o material foliar. c)
Detalhe dos tubos onde é colocado o material: os tubos de 2 mL, da esquerda para a direita, contêm
o macerado embebido em meio de extracção, o homogenato, e a fase líquida separada após
centrifugação; entre estes dois últimos vê-se um tubo cónico de 0,5 mL com o extracto pronto a
ser guardado.
Figura 3.2 — Aspecto do material foliar à medida que era processado. a) Macerado no
interior do almofariz. b) Homogenizador e dois tubos de 2 mL contendo o material foliar. c)
Detalhe dos tubos onde é colocado o material: os tubos de 2 mL, da esquerda para a direita, contêm
o macerado embebido em meio de extracção, o homogenato, e a fase líquida separada após
centrifugação; entre estes dois últimos vê-se um tubo cónico de 0,5 mL com o extracto pronto a
ser guardado.Só se processavam, no máximo, 6 amostras por centrifugação, para que nenhuma ficasse à espera demasiado tempo até ao procedimento ficar completo. Além disso, este ritmo de processsamento permite 2 pessoas alternarem eficientemente na utilização dos mesmos meios, duplicando o número de amostras que se podem processar para o mesmo período de tempo. Por pessoa, devem projectar-se até um máximo de 36 amostras por dia de trabalho (equivalente a sensivelmente 6 horas), variando conforme a hora a que as folhas podem chegar ao laboratório.
O cocktail de inibidores utilizado era rapidamente preparado à medida que era necessário, com 20% de AEBSF a 10 mM, 20% de E-64 a 1 mM, 20% de iodoacetato a 100 mM, e 40% de EDTA a 0,5 M (percentagens por volume). Estas soluções-mãe eram todas preparadas em água e mantidas a –20 ºC no caso das de E-64 e iodoacetato, a 4 ºC para a de AEBSF e à temperatura ambiente para a de EDTA. Uma vez preparado, o cocktail era utilizável no prazo de poucos dias se mantido sempre a 4 ºC.
As únicas diferenças no procedimento são anteriores à maceração. O material que era utilizado para a maceração, também aproximadamente 400 mg por indivíduo, era a extremidade dos cotilédones oposta ao estigma, isto é, a que está virada para a cúpula do fruto, liberto na medida do possível de tecido materno (restos de tegumento) e de vestígios de larvas parasitas (galerias). Pretendia-se, pela selecção desta extremidade, preservar a radícula e epi/hipocótilo assim como a maior parte dos cotilédones, e assim manter o potencial de germinação das sementes. Em 1999 fez-se uma comparação entre a amostragem desta extremidade em comparação com a extremidade oposta, e não se verificaram diferenças no repertório de enzimas reveláveis após electroforese (pelo menos daqueles que foram usados em análises de rotina no presente estudo). Deste modo, e porque a quantidade de 400 mg não constituía, mesmo no caso de sementes mais pequenas, uma perda de material significativa, tornava-se possível analisar o mesmo indivíduo através dos cotilédones e, após germinação, das folhas seja na fase de planta jovem ou já como árvore.
Algumas sementes foram mantidas a 4 ºC, imersas em areia, depois da remoção duma parte dos cotilédones, para poder verificar-se mais tarde o seu potencial de germinação. De facto, verificou-se germinação dalgumas sementes processadas desta forma, mas a taxa de germinação não foi determinada.
Cuidados adicionais, que implicavam uma ligeira lentidão do processamento em comparação com o material foliar, incluiam a já referida remoção de material biológico contaminante, assim como cortar o material a utilizar em fatias finas, depois de pesado, para facilitar a maceração. Os extractos de sementes tinham aspecto leitoso, esbranquiçado, às vezes com uma ligeira tonalidade rosada.
